O fantasma de um arquiteto “desreprimido” que habita uma casa em Campos do Jordão desafia as crenças do escritor Marcelo Mirisola no conto ‘A casa das pedras’, publicado no livro ‘Memórias da sauna Finlandesa’, de 2009, um dos últimos trabalhos do escritor paulista que atualmente mora no Rio de Janeiro.

No conto, o narrador aluga a casa para ter uns dias de sossego, mas encontra uma habitação oprimida por araucárias ao redor, e feita com pedras e muito vidro, o que revela seu interior. Suspenso nesse clima frio e estranho, sem a zona de conforto da casa isolada, Mirisola vislumbra na transparência os fantasmas de seus proprietários, uns hippies maconheiros que nos anos 70 a construíram exatamente porque acreditavam que o movimento de abrir a mente ocorre de fora para dentro.
“Consta que para abrir as ‘portas da percepção’ o sujeito tem de fazê-lo de dentro para fora, e não o contrário. Isso é básico, e é tipicamente humano”, escreve Mirisola, rechaçando a teoria libertária de seu fantasma. Essa convicção, no entanto, desaba ao longo da história, e o escritor revela para o leitor uma característica, ou um talento tão necessário à arte de escrever, que é a capacidade de se deslocar no mundo das opiniões e ver a realidade a partir do lugar do outro.
A fantasmagoria de Mirisola está presente em outros contos do livro – esse é um indicador do registro autobiográfico em sua obra – como na história ‘Olhos de cais’, em que ele se projeta como alguém que está sempre abandonando pessoas e objetos, e rejeitando a memória dos fatos. Ele chega a dizer que o garoto que foi na infância virou um fantasma na idade adulta, “e sua condenação foi não ter morrido”. Essa abordagem é uma visão que quebra a ilusão da criança que vive em cada um de nós, é uma espécie de franqueza áspera.
O escritor não faz questão de se esconder ao criar personagens. No conto ‘Encontro no Cervantes’, ele se coloca como um ‘travecão’ com 300 gramas de silicone em cada teta, que está com outro travesti em um sujo e tradicional bar do Rio, o Cervantes, e lá acaba se metendo em uma conversa alheia sobre samba de raiz, em uma situação que tem traços tão ambíguos quanto a cultura da homossexualidade.
Castelos e bolhas feitos de sonhos
Neste trecho do conto ‘Valentina e o laranja intenso’, Mirisola exerce um lirismo que se projeta a partir de sensações comuns no cotidiano:
“Nem seria preciso dizer: bolhas de sabão são feitas com o mesmo material dos castelos que se desmancham na areia. Sonhos. Não há diferença. Apenas uma questão de localização. Se eu fosse poeta, e se acreditasse em sonhos, diria: um se desmancha no ar, e outro é arrastado pela correnteza”.
 Memórias da sauna finlandesa,
Memórias da sauna finlandesa,
Marcelo Mirisola, Editora 34, São Paulo, 2009, 175 págs., R$ 30.
Foto: Guto Zafalan

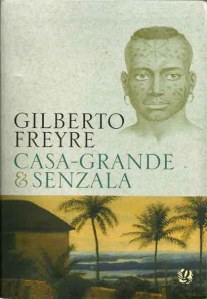
 Uma história da malandragem paulistana, que se ambienta em salões de sinuca no início dos anos 60, embala as desventuras de três amigos que saem em busca de partidas em vários bairros da cidade para superar a falta de dinheiro.
Uma história da malandragem paulistana, que se ambienta em salões de sinuca no início dos anos 60, embala as desventuras de três amigos que saem em busca de partidas em vários bairros da cidade para superar a falta de dinheiro.